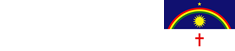A principal mudança que vem ocorrendo na gestão empresarial é a que podemos chamar da gestão de fora para dentro, reconhecendo – num mundo globalizado – que o poder migrou do produtor para o comprador.
O produtor precisa ser competitivo perante o comprador. É ele quem decide de quem vai comprar e essa decisão dá poderes e valor ao produtor (ou vendedor) escolhido e tira poderes e valores dos rejeitados.
Tais opções, feitas individualmente, mas multiplicadas em centenas, milhares e milhões de compradores determinam o crescimento ou decadência de empresas e, no conjunto, das economias.
Embora essa percepção seja crescente no meio empresarial (e mesmo em serviços governamentais) ainda não foi absorvida pelos analistas econômicos que insistem em ver a economia a partir do ângulo da produção ou apenas da dimensão financeira.
Essa distorção de visão – que não é apenas uma miopia, mas mais próxima da caolhice – leva a equívocos geradores de problemas ou de catástrofes, como o caso da economia Argentina.
O caso mais recente, ocorrido no Brasil, foi o da chamada crise de energia, apontado por 99% dos analistas como um dos causadores da reversão do crescimento econômico, quando na realidade foi um fator de sustentação do crescimento: apesar do efeito psicológico negativo decorrente do equívoco de interpretação.
Daí a surpresa com a não ocorrência da crise, pois essa só era vista pela perspectiva caolha.
A partir da perspectiva da produção, entendeu-se que haveria uma redução de produção industrial e de outras atividades econômicas em função da restrição de oferta de energia elétrica.
Conseqüentemente, a economia entraria em desaceleração, com menor atividade econômica, dispensa de trabalhadores detonando um ciclo depressivo.
No entanto, olhando a mesma questão do lado do comprador, tanto do residencial como do empresarial a perspectiva seria outra.
O consumidor residencial já havia incorporado no seu orçamento familiar um gasto com energia elétrica. Diante do risco do ¥apagão¥ buscou a redução do consumo, em alguns casos com gastos alternativos (compra de lâmpadas fluorescentes, aquecedores a gás, aquecimento solar etc) e, em outros casos, simplesmente deixando de consumir a energia (desmobilização de geladeiras, fornos de micro-ondas, desligamento de lâmpadas, etc).
Com isso, mudou o perfil de demanda familiar que, no conjunto da economia, representou uma mudança no perfil da demanda agregada.
De um lado houve a redução de gastos diretos com energia, com lâmpadas comuns (incandescentes), com bens de consumo duráveis consumidores de energia (forno de micro-ondas, geladeiras, chuveiros elétricos e outros eletrodomésticos).
De outro houve o aumento de gastos com bens duráveis alternativos, lâmpadas fluorescentes, mas principalmente de outros bens de consumo, com o aproveitamento das economias obtidas na conta de energia.
Chegou-se a estimativas de perda de faturamento de 25 bilhões, o que está evidentemente superestimado. A perda das distribuidoras não deve ter passado de 5 bilhões, dos quais cerca de 3 bilhões com o consumo residencial.
Visto do lado do consumidor, ele deixou de pagar 4 bilhões (aí incluído o ICMS) e destinou esses recursos para outras compras, ou para quitar débitos (cheque especial, carnês, etc), determinando uma bolha de consumo.
Isso se refletiu num aumento do setor industrial de alimentos, a par da queda nas vendas e na produção de eletrodomésticos. O consumo formal perdeu, mas, no conjunto, cresceu.
Segundo estudos do BNDES (Informe-se – AFE, nº 31, novembro de 2001) cada 10 milhões de reais gastos com vestuário gera 1.575 empregos, entre diretos, indiretos e induzidos. Na indústria de laticínios, 884 e nos chamados ¥serviços industriais de utilidade pública¥, onde se insere o setor de energia elétrica, 386.
Significaria que de cada 10 milhões de reais deixados de ser pagos na conta de energia e destinados a compra de roupas, mais 1189 empregos teriam sido gerados.
A mudança do perfil de demanda, não gerou desemprego, mas mais empregos.
A economia não entrou em depressão, para a surpresa da quase totalidade dos analistas que, se considerassem o lado da demanda, não seriam surpreendidos, pois teriam percebido a mudança no perfil do consumo.
Do lado da demanda empresarial, teriam percebido uma lógica fundamental da ciência econômica: aquela das decisões baseadas no custo relativo dos fatores. A energia elétrica para o consumo não residencial é barata, o que fazia o empresário preferir essa fonte a outras (gás, combustíveis, etc) e a desprezar o gerenciamento energético.
A conseqüência era um alto índice de desperdício e de ineficiência energética, com motores superdimensionados, manutenção de iluminação desnecessária, etc.
Com a determinação das quotas, um fator adicional entrou no quadro das decisões empresariais: o custo da energia adicional às quotas, adquirida no mercado atacadista de energia. Para as empresas, foi oferecida essa opção, que foi pouco utilizada.
Num primeiro momento, os empresários ficaram assustados com os preços vigentes no MAE, mas depois de uma primeira rodada de eficientização do uso de energia na sua empresa, perceberam – a menos de poucas exceções – que não precisavam recorrer a quotas adicionais. Como conseqüência, os preços no MAE despencaram.
Nenhum empresário que tinha vendas a cumprir deixou de produzir por falta de energia elétrica. Os que reduziram a produção foram os que tiveram uma queda de venda, por outros fatores ou pela mudança no perfil de consumo, como o caso dos eletrodomésticos ou da indústria automobilística (neste caso como decorrência do equívoco de percepção de uma crise inexistente, mas efetiva pela ¥profecia auto-realizada¥).
Essa perspectiva caolha da economia trouxe efeitos negativos sobre a economia brasileira em 2001, tolhendo um crescimento que não precisava ser contido.
Jorge Hori é consultor em gestão de organizações públicas e privadas.